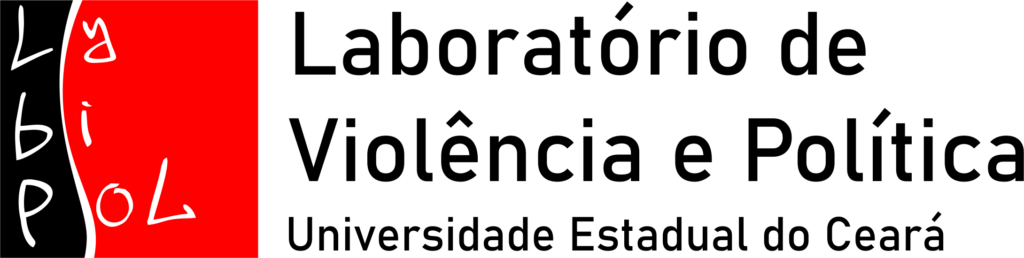Depois de 1945, a Europa não começou um “novo capítulo limpo”. Começou uma reconstrução com medo de repetição. As democracias ocidentais ergueram constituições, tribunais e tabus para impedir a volta do fascismo, mas tabus não apagam redes, memórias e ambições. A extrema-direita reapareceu cedo e aprendeu a primeira regra do pós-guerra: trocar a linguagem de ruptura por uma linguagem de “defesa” da nação, da ordem, da família e de uma identidade supostamente ameaçada.
Ao mesmo tempo, o continente não era homogêneo. Portugal e Espanha seguiram como ditaduras nacionalistas de direita por décadas. Franco morreu no poder em 20 de novembro de 1975 e o regime português caiu em 25 de abril de 1974. Essa continuidade importou porque mantinha viva, dentro da Europa, uma normalidade autoritária que contrastava com o “antídoto constitucional” do pós-guerra e preservou linguagens políticas de ordem e tradição como oficialidade, não como clandestinidade.
Se a pergunta é “quem foi o primeiro” depois da guerra, a resposta depende do critério. Para reentrada eleitoral em uma democracia do pós-guerra, o caso clássico foi a Itália, com o Movimento Social Italiano (Movimento Sociale Italiano) fundado em 26 de dezembro de 1946, tentando representação parlamentar com raízes neofascistas. A Alemanha mostrou o outro lado do pós-guerra: o limite jurídico duro contra continuidades nazistas, simbolizado pela proibição do Partido Socialista do Reich (Sozialistische Reichspartei) em 1952 pelo Tribunal Constitucional Federal (Bundesverfassungsgericht).
A partir dos anos 1970, quando a sensação de estabilidade econômica começou a ruir, o terreno político mudou. A crise do petróleo de 1973 foi um marco porque inaugurou inflação, desemprego e uma ansiedade social que abriu espaço para mensagens de controle imediato e culpados claros. E aqui vale um parêntese curto, porque “populismo” não é uma palavra com um único dono. Há quem o defina como uma ideologia mínima (thin-centered ideology): uma visão que divide a sociedade entre “povo puro” e “elite corrupta” e promete que a política deve seguir a vontade geral (volonté générale) do povo. Outros preferem uma definição mais cortante: o núcleo do populismo seria o antipluralismo (anti-pluralism), a ideia de que só um grupo fala em nome do “povo verdadeiro” e que os adversários são, por natureza, ilegítimos.
Há também uma leitura mais democrática e menos moralista: Margaret Canovan descreveu o populismo como algo que crescia da tensão entre uma democracia pragmática (pragmatic), feita de acordos e administração, e uma democracia redentora (redemptive), feita de promessa de resgate do poder “para o povo”. E, se você quiser uma chave mais “de palco”, Benjamin Moffitt tratou o populismo como estilo político (political style): uma performance pública que dramatizava crise, conflito e urgência para capturar atenção e impor o ritmo do debate.
É nesse clima que a extrema-direita passou a explorar o formato moderno de massa: populismo. Em vez de falar abertamente “nós queremos um regime”, ela passou a dizer “nós vamos proteger você”, e ela usou uma narrativa que funcionava bem em qualquer língua: “povo” contra “elite”, “nós” contra “eles”. A França virou referência porque a Frente Nacional (Front National), fundada em 1972 e, por décadas, liderada por Jean-Marie Le Pen, construiu uma máquina durável que normalizou a imigração e a identidade como eixo do debate.
O fim do bloco soviético, entre 1989 e 1991, fechou uma era para abrir outra. No Leste e no Centro europeu, transições econômicas difíceis e recomposições nacionais criaram espaço para nacionalismos duros e políticas de inimigos internos. No Oeste, a integração europeia e a sensação de perda de controle alimentaram discursos soberanistas, com “Bruxelas” como abreviação das instituições da União Europeia, apresentadas como uma elite distante, embora muitas decisões passassem também pelos governos nacionais no Conselho. Essa fase consolidou um mecanismo que explicou por que a extrema-direita cresceu mesmo quando não ganhou as eleições: ela se deu pelo contágio. Partidos tradicionais endureceram a linguagem e as políticas de imigração e segurança para não perder eleitores, e com isso legitimaram a moldura mental da extrema-direita. O eleitor aparentemente tendeu a preferir o original à cópia, e a extrema-direita passou a vencer também redefinindo o que se discutia e como se discutia.
Nos anos 2000, a Europa entrou em uma sequência de abalos que corroeram confiança e aumentaram ressentimento: globalização acelerada, insegurança econômica, e depois a crise financeira e a crise do euro, que atingiram em cheio a crença de que a democracia “entrega” e de que as elites controlavam o rumo das coisas. Nessa etapa, a extrema-direita deixou de ser apenas uma ferramenta de protesto e se tornou instrumento de poder, seja por coalizões, seja por apoio externo, seja por chantagem parlamentar. A Hungria marcou uma mudança de patamar: a coalizão Fidesz–KDNP, formada pela Aliança Cívica Húngara (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség) e pelo Partido Popular Democrata Cristão (Kereszténydemokrata Néppárt, KDNP), venceu as eleições de 2010 sob a liderança de Viktor Orbán, primeiro-ministro, e com Pál Schmitt como presidente da República a partir daquele ano. O resultado foi uma maioria de dois terços no parlamento, inaugurando um ciclo de poder duradouro e um modelo iliberal que alterou o debate europeu sobre democracia e Estado de Direito. Aqui o ponto foi bastante simples e incômodo: quando um caso mostrou que dava para governar e reconfigurar instituições, a ideia se tornou exportável.
A pandemia de 2020 acelerou tudo o que já estava em movimento. Medo, isolamento, perda de renda, medidas estatais intrusivas e desconfiança criaram um ambiente perfeito para teorias conspiratórias e desinformação. Documentos europeus sobre radicalização descreveram como extremistas de diferentes matrizes exploraram “fake news” e conspirações no contexto da COVID-19 e do ambiente anti-governo. No pós-pandemia, a extrema-direita apareceu como força estrutural em vários países. A Itália virou símbolo quando Giorgia Meloni assumiu como primeira-ministra em 22 de outubro de 2022, liderando um governo amplamente descrito como o mais à direita no país desde a Segunda Guerra. Portugal mostrou a dinâmica ibérica em versão democrática: em 2025, o Chega se tornou a segunda força parlamentar, com cerca de 23% e 60 cadeiras.
Na Espanha, o Vox perdeu força em 2023 no parlamento nacional, mas seguiu influente e voltou a crescer regionalmente, mostrando que o avanço não depende apenas de “vencer o país”, mas de ocupar territórios e condicionar coalizões. Na França, além do campo Le Pen, surgiu um polo que tentou empurrar o debate para uma linha ainda mais dura: o jornalista e candidato Éric Zemmour lançou o partido Reconquista (Reconquête), apresentado publicamente em 5 de dezembro de 2021. O partido se organizou em torno de uma agenda centrada em identidade nacional, assimilação cultural, endurecimento da política migratória e do asilo, reforço de ordem e segurança e uma retórica de “recuperação” do controle político e cultural, com foco recorrente em imigração e islamismo.
A Alternativa para a Alemanha (Alternative für Deutschland, AfD) saiu da margem e virou peça central do tabuleiro: nas eleições europeias de 2024 chegou a cerca de 15,9% e 15 cadeiras, e nas eleições federais de 2025 conquistou 152 assentos no parlamento. O caso alemão, por razões históricas e institucionais muito específicas do pós-guerra, merece um texto à parte, porque ali o choque entre memória, direito constitucional e disputa política é mais tenso e mais revelador do que em quase qualquer outro país europeu.
No plano europeu, a força virou também matemática institucional. Depois das eleições de 2024, grupos de extrema-direita ampliaram tamanho e capacidade de travar agendas no Parlamento Europeu, e os Patriotas pela Europa (Patriots for Europe) começaram a legislatura com 84 assentos, o que aumentou recursos, tempo de fala e poder de bloqueio. O fio que amarra tudo sem deixar ponta solta é este: a extrema-direita europeia cresceu porque aprendeu a sobreviver no pós-guerra, porque crises econômicas e identitárias abriram demanda por pertencimento e controle, porque o centro político normalizou sua moldura ao copiá-la, e porque a era digital, acelerada pela pandemia, tornou a política mais emocional, mais cansativa e mais vulnerável à desinformação. Em outras palavras, ela não venceu apenas pelo voto. Ela venceu porque conseguiu mudar a linguagem do aceitável.